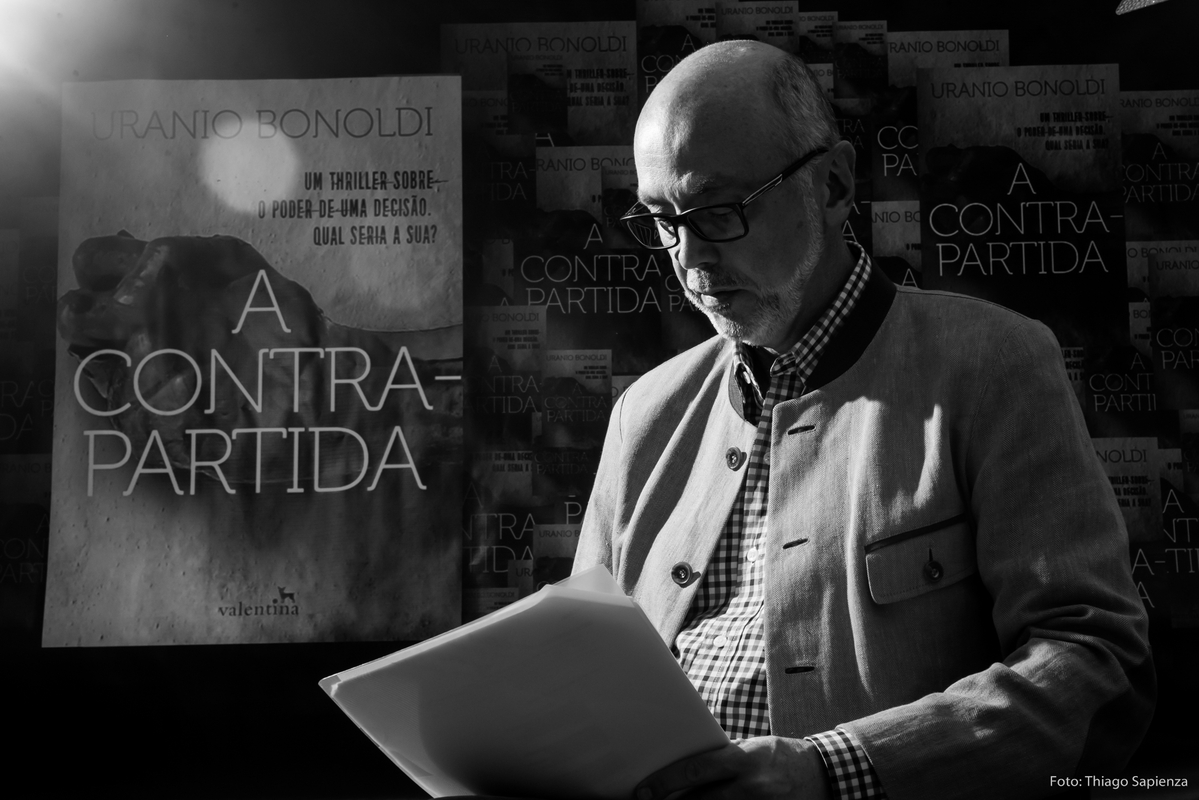As “epistemes diferentes” e a ciência

Imagem de Jürgen Rübig por Pixabay
Para Carlos Orsi, não há nada que justifique o dogma de que diferentes epistemes ou paradigmas não podem ser comparados ou hierarquizados
Por Carlos Orsi*
Anedotário pessoal não é evidência científica, mas isto aqui é uma crônica, não um paper, então vamos lá: na minha experiência, nove de cada dez vezes em que alguém, numa palestra ou evento público, diz algo como “homeopatia não funciona”, ou “já foi provado que reiki é bobagem”, ou ainda, “acupuntura é apenas um placebo performático”, um outro alguém, em meio ao público, vai levantar a mão e dirá que essas coisas – reiki, etc. – seguem “paradigmas” ou “epistemes” próprios, logo é errado/injusto/ingênuo julgá-las pelos “parâmetros da ciência hegemônica”, ou coisa que o valha.
O que o Solícito Membro do Público, que quase sempre tem aquela pose sincera de Intelectual Sofisticado™, está querendo dizer, afinal? Quando o assunto é ciência e conhecimento, “epistemes” e “paradigmas” são termos usados, principalmente, em referência aos trabalhos dos filósofos Michel Foucault (1926-1984) e Thomas Kuhn (1922-1996).
As duas palavras não querem, de modo algum, dizer a mesma coisa. “Episteme”: “o que é para uma ciência ser ciência”; “a totalidade das relações que podem ser descobertas, para um dado período, entre as ciências, quando analisadas ao nível das regularidades discursivas” (Foucault, “A Arqueologia do Saber”). “Paradigma”: “o conjunto de compromissos compartilhados de uma comunidade científica”; “o que os membros de uma comunidade científica, e só eles, compartilham” (Kuhn, “The Essential Tension”).
Como os breves exemplos acima mostram, “episteme” parece um conceito muito mais ambicioso do que “paradigma”. Em comum, ambos têm, além do fato de referirem-se à ciência, a característica de não serem lá muito precisos e darem margem a confusão – mesmo nos trabalhos dos autores originais.
Mas, em debates sobre ciência e pseudociência, ambos os termos costumam aparecer de modo pouco rigoroso e quase intercambiável, significando, grosso modo, a “regra do jogo” do conhecimento: as bases e pressupostos que fazem com que um conjunto de alegações sobre a realidade conte como “conhecimento”, num determinado contexto histórico e social.
Que existem diferentes modos de “jogar o jogo” da legitimação do conhecimento é uma obviedade. Por exemplo, o fato de eu ter um diploma de Jornalismo, com um lindo carimbo dourado (em alto relevo!) emitido por graça daquela augusta instituição, a Universidade de São Paulo, legitima, sob certo paradigma, a alegação de que estou apto a escrever crônicas, reportagens e artigos com verve e competência.
Já um leitor familiarizado com minha produção pode, invocando outro paradigma – o da evidência direta disponível – alegar o contrário. E por mais que me doa admitir, evidência direta da produção bate evidência do carimbo dourado da USP, fácil, fácil.
E, assim, chegamos a um ponto que deveria ser óbvio para qualquer exemplar de Homo sapiens que não tenha sido ofuscado por uma granada de jargão:
não há nada que justifique o dogma de que diferentes paradigmas (ou “epistemes” ou, pra encurtar, “epidigmas”) não podem ser comparados ou hierarquizados.
Ainda mais, quando todos os “epidigmas” considerados se propõem a prever desfechos verificáveis no domínio da realidade observável: nesse caso, a observação da tal realidade, e a comparação entre desfecho previsto e desfecho obtido, basta como princípio hierarquizante. Ora bolas.
Por exemplo: diante do desfecho desejado “voar até Paris”, o epidigma da engenharia aeroespacial, do qual decorre a tecnologia do avião a jato, é evidentemente superior ao da magia negra, que manda preparar uma pomada com gordura humana e pó de múmia, a ser esfregada na sola dos pés.
Nos casos citados no primeiro parágrafo – reiki, homeopatia, acupuntura – todos os diferentes epidigmas (supondo que sejam, de fato, diferentes; a homeopatia, por exemplo, nasce dentro do mesmo contexto que a medicina ocidental do pós-Iluminismo) incluem a promessa, empiricamente verificável, de gerar benefícios específicos para a saúde, e curar doenças.
Se a promessa não se cumpre, os tais epidigmas alternativos falham no teste que impuseram a si mesmos. Fim da história. Ou não?
Testes testam?
Uma resposta possível à constatação acima é a de que o próprio modo de medir sucesso – no caso, a restauração da saúde do paciente – deve ser específico de cada epidigma: o critério do teste clínico duplo-cego, com grupo placebo, seria uma forma de “imperialismo epistêmico”.
O que é meio difícil de engolir, e não só por causa dos polissílabos: a prescrição de que um tratamento, para ser considerado eficaz, deve produzir resultados comprovados melhores do que simplesmente não fazer nada é quase uma decorrência direta do significado da palavra “eficaz”; se há algum “paradigma” envolvido aí, é o do dicionário.
Que essa determinação de eficácia requeira tratamento estatístico de dados, uso de grupos de controle, a redução da ênfase em relatos pessoais e experiência clínica individual – tudo isso decorre do reconhecimento da falibilidade humana, da predisposição que temos para realizar falsas inferências e errar atribuições de causa efeito.
São salvaguardas contra a fragilidade das aparências. Um epidigma que exclua essas provisões é, simplesmente, um que abraça o autoengano.
Quando o francês Pierre Charles Alexandre Louis (1787-1872) publicou, em 1828, a primeira análise numérica comparando pacientes de pneumonia que haviam recebido sangria aos que não tinham sido sangrados – e mostrando que a sangria era inútil – médicos, inicialmente, resistiram a reconhecer a validade da observação, preferindo confiar em tradição e experiência pessoal.
Mas a verdade dos números, quando aceita, permitiu que um erro de inferência escabroso, que se perpetuava há milhares de anos, causando morte e sofrimento desnecessários, fosse, enfim, eliminado.
Alguns homeopatas (por exemplo) queixam-se da natureza dos testes estatísticos: a homeopatia, dizem, é personalizada, com tratamentos específicos para o paciente. Testes realizados dentro do “paradigma da biomedicina” (isto é, com controles, estatística, etc.), para ficar num jargão popular deste grupo, envolvem grandes grupos de voluntários. Portanto, não seriam um método justo de avaliação.
Mas isso não faz sentido. O “paradigma da biomedicina” é, tão somente, um reflexo da exigência de redução do autoengano, e o autoengano deve ser visto como problema para qualquer “episteme” digna do nome.
A ideia de comparar, de modo controlado, diferentes cursos de tratamento e ver qual traz melhores resultados não é peculiar, ou arbitrário. Seu apelo racional é tão forte que instâncias aparecem, até mesmo, na literatura do mundo antigo (por exemplo, em Daniel 1:12-16, no Velho Testamento).
Além disso, um grau de personalização como o proposto pelo argumento homeopático simplesmente inviabiliza a prática de qualquer tipo de medicina: toda a ideia de que é possível fazer prescrições médicas, inclusive homeopáticas, depende do pressuposto de que certas substâncias mitigam certas doenças ou sintomas na população em geral ou, ao menos, numa fração específica dela.
Essa fração pode até ser um recorte pequeno (os portadores de um gene raro, digamos), mas mesmo essas especificidades minúsculas são detectáveis em testes clínicos.
Programa falido
Há quem diga que a filosofia de Thomas Kuhn, ao reconhecer a presença de elementos subjetivos nas escolhas teóricas feitas por cientistas, reduz o processo de definição da ortodoxia científica – por exemplo, optar entre a doutrina da energia vital ou a teoria dos germes – a uma forma de “psicologia de massa”, sem relação com a realidade dos fatos ou o peso objetivo das evidências: se doenças infecciosas são causadas por micróbios ou “energia negativa” seria algo definido por jogos de poder e culturais entre os cientistas, não pelo confronto com o real.
Mas nem Kuhn concordava com isso. Na verdade, ele se declarou escandalizado quando soube que havia quem desse tal interpretação a suas deias.
Psicologia e gostos pessoais entram no processo de seleção de teorias científicas, disse ele, não são sua essência ou seu aspecto principal. No livro “The Essential Tension”, Kuhn é bem claro ao apontar que o acúmulo da evidência empírica desempenha papel central.
A filósofa Helen Longino, por sua vez, nota que as interações sociais entre cientistas, nos processos de colaboração, competição, verificação mútua e revisão pelos pares, amplia, não reduz, a objetividade do produto final, que é o consenso da comunidade científica sobre qual a melhor teoria ou explicação sobre determinado fato do mundo.
Leia também:
Ciclo de palestras apresenta a ciência da ignorância
Quem são os inimigos da ciência?
A relatividade da incerteza quando o assunto é ciência
Boa parte da conversa de “paradigmas” e “epistemes” que aparece nos eventos públicos sobre saúde e pseudociência acaba, de uma forma ou de outra, ligada a insinuações sobre “interesses” – a quem “interessam” esses critérios todos que põem o reiki e a ozonioterapia, a homeopatia e a acupuntura, “fora do paradigma hegemônico”? A resposta óbvia é: aos pacientes, seus familiares, e ao erário.
Mas não é esse, claro, o tipo de resposta que o Intelectual Sofisticado™ tem na cabeça. Ele, muito provavelmente, está pensando em termos vagamente ligados ao “programa forte da sociologia da ciência”, apresentado, em meados dos anos 60, por David Bloor, da Universidade de Edimburgo.
O programa forte propunha que não apenas as instituições e estruturas envolvidas no fazer científico – a conformação das universidades, a composição dos grupos de pesquisa, a escolha e o financiamento dos temas a serem estudados – poderiam ser explicados em termos de forças e interações sociais, mas que o próprio conteúdo das ciências também.
Deveria ser possível, por exemplo, explicar por que a ciência faz referência a um gás chamado “oxigênio” sem levar em conta o fato de que o oxigênio existe, mas apenas citando fatores históricos e sociais.
Onde Bloor queria chegar com isso não parece muito claro até hoje (quem tiver curiosidade pode procurar o artigo “David Bloor and the Strong Programme”, de Collin Finn, no livro “Science Studies as Naturalized Philosophy”).
O que o grupo de pensadores que ficou conhecido como pós-moderno fez, no entanto, ficou na história: de repente, Intelectuais Sofisticados™ afirmavam, urbi et orbi, que leis da Física eram melhor explicadas não como generalizações válidas de dados experimentais, mas como armas ideológicas dentro da luta de classes ou da opressão de minorias.
A feminista belga Luce Irigaray, por exemplo, ficou famosa, fora dos círculos acadêmicos, ao “detectar” machismo na equação E=mc2.
Acontece que essa “interpretação forte do programa forte” não é mais levada a sério, se é que algum dia foi, por ninguém que trabalhe para valer com filosofia da ciência. Nos dias atuais, ela é ferramenta de ideólogos ligados a Donald Trump ou Jair Bolsonaro, que mobilizam o arsenal pós-moderno para atacar a ciência do aquecimento global. Deles, e de alguns Intelectuais Sofisticados™ que assombram palestras aqui pelo Brasil.
Aliás, até os arautos do programa forte perceberam que haviam se metido num beco sem saída. E já faz algum tempo. Foi em 2004 que um dos ícones do movimento, o sociólogo francês Bruno Latour, jogou a toalha:
“O erro teria sido acreditar que tínhamos também a explicação social dos fatos científicos. Não tínhamos, embora seja verdade que, no início tentamos (…) mas felizmente (sim, felizmente!) vimos, uma após a outra, que as caixas pretas da ciência continuavam fechadas e que eram nossas ferramentas que jaziam no chão da oficina, desarticuladas e quebradas. Simplesmente, a crítica era inútil contra objetos de alguma solidez. Pode-se tentar o jogo projetivo contra óvnis, ou divindades exóticas, mas não tente isso contra a gravidade, ou neurotransmissores”. [Latour, ‘Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern’, Critical Inquiry 30 (Winter 2004)]
Isso foi há 15 anos. Os pretensos discípulos fariam bem em seguir o mestre.
*Carlos Orsi é jornalista e editor-chefe da Revista Questão de Ciência
Texto publicado originalmente na Revista Questão de Ciência com o título “O falso charme do relativismo científico”
Veja também
Como identificar argumentos falsos usando a lógica? [VÍDEO]
Fenômenos religiosos são tratados com especial indulgência e condescendência, diz Carlos Orsi
Como pensam os cientistas? Professores da UFPE explicam em livro
Física quântica e charlatanismo: “A gente dá risada, mas é de pânico”