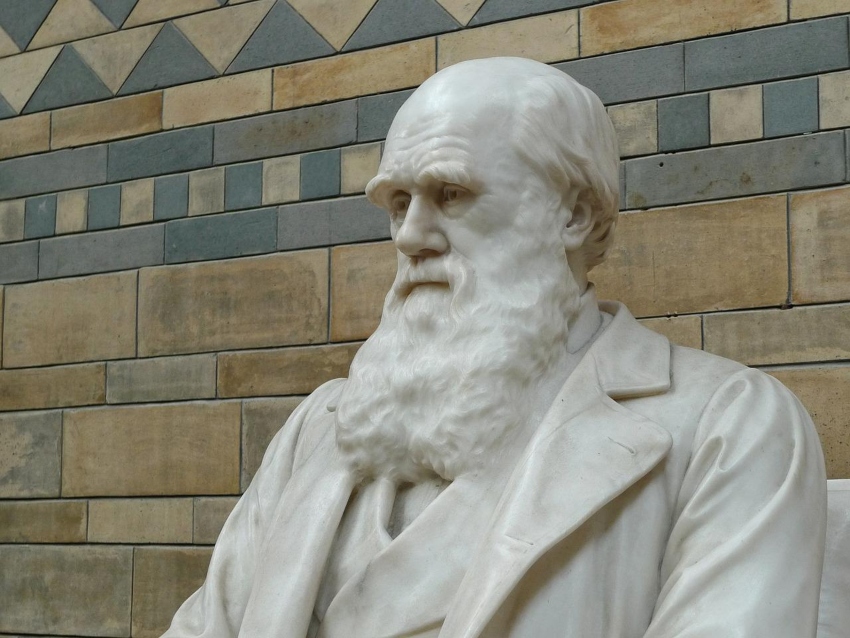Soberana Ziza estreia exposição inédita no Centro Cultural São Paulo
Anos depois de participar de pesquisas, famílias de crianças com a síndrome congênita do Zika se sentem abandonadas

Rochelle dos Santos e suas duas filhas. Foto: Ueslei Marcelino/Undark)
Rochelle dos Santos descobriu que sua filha provavelmente nasceria com microcefalia – uma condição em que a cabeça do bebê é muito menor do que o esperado – quando ela estava grávida de sete meses. Era 2016 e o Brasil passava por um surto de microcefalia sem precedentes associado ao Zika, vírus transmitido por mosquito. Depois que o bebê nasceu e o diagnóstico de síndrome congênita do Zika foi confirmado, vários pesquisadores abordaram Santos para ver se ela participaria de estudos clínicos relevantes. Ansiosa para entender a condição de sua filha, ela concordou.
Santos diz que ficou surpresa ao saber, por meio de uma postagem nas redes sociais no ano passado, que um estudo internacional do qual ela participou foi publicado na revista Brain & Development. O estudo levou mais de um ano para ser concluído, período no qual Santos havia levado sua filha várias vezes ao hospital para avaliações.
Como fundadora de uma associação para famílias de crianças afetadas pelo Zika em Goiás, Santos queria compartilhar as descobertas com as outras famílias. Ela diz que precisou entrar em contato diretamente com Hélio van der Linden, neurologista do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, autor do estudo em parceria com pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos, para pedir que uma cópia fosse compartilhada com ela. Mas, segundo ela, ele disse que não adiantava porque o estudo estava escrito em inglês.
“Óbvio que a gente fica chateado”, diz. “A gente quer ter esse feedback, entender o que aconteceu, entender melhor essa situação que é nova para todos.” Santos observa que, enquanto ela entende só um pouco de inglês, seu marido fala a língua. “A gente sabe que o Covid está aí e agora é prioridade”, acrescenta Santos, “mas nossas crianças estão aqui, elas continuam tendo as necessidades”.
O autor do estudo enviou-lhe o artigo, e Santos diz que seu marido o traduziu para ela – mas ela acrescenta que van der Linden também pediu que ela não o compartilhasse. (Van der Linden disse ao Undark por e-mail que, embora tenha dito a Santos que o artigo foi escrito em inglês, sua principal preocupação era entrar em conflito com as regras de publicação da revista. Seu pedido para não o compartilhar, acrescentou, era para posts de redes sociais. “Não há nenhum problema em passar o artigo para as outras mães”, ele escreveu, “creio que isso não ficou claro para a mãe da paciente”.)
As crianças com síndrome congênita do Zika enfrentam vários problemas de saúde, todos relacionados com a maneira peculiar com que o Zika ataca o cérebro em desenvolvimento. Além da característica mais pronunciada da condição – a cabeça de tamanho reduzido – muitos têm músculos rígidos, dificuldade para engolir e respirar e problemas na retina e no nervo óptico, bem como outros sintomas que surgem à medida que as crianças crescem. “Até hoje os médicos falam – só o tempo vai dizer como vai ser seu filho amanhã”, diz Santos “porque a gente não tem adultos com essa síndrome.”
Santos não é a única mãe que se sentiu deixada para trás pelos cientistas. Grupos de famílias como o que ela lidera surgiram em todo o país, e os membros estão cada vez mais em desacordo com os cientistas que usaram seus filhos para pesquisas. A avó e cuidadora de um menino com síndrome congênita do Zika, Alessandra Hora dos Santos, lançou uma dessas associações em Alagoas em 2017. Ela diz que ultimamente tem recusado pedidos para participar de novos estudos – embora esses convites estejam se tornando raros porque não houve novos surtos da síndrome desde 2016 – e ela percebeu que outras famílias estão fazendo o mesmo.
Os cientistas que conduziram os estudos sobre o Zika durante e após o auge do surto admitem que nem sempre têm sido eficazes em comunicar os resultados às famílias e que essa não era a principal prioridade durante a crise do Zika. Na pressa para coletar dados, nem todos os pesquisadores se deram ao trabalho de explicar em detalhes sobre o que eram seus projetos e definir expectativas claras. Cuidadores ocupados, por outro lado, dificilmente conseguiam ler cuidadosamente os termos de consentimento livre e esclarecido que estavam assinando para autorizar os investigadores a coletar dados de seus filhos. Nos últimos anos, essas famílias têm exigido participar mais ativamente da discussão científica sobre o Zika.
“A gente se sente diminuída”, diz Alessandra Hora dos Santos. “É como se a gente fosse um rato de laboratório. Chegam bem bonzinhos, colhem informação, colhem exames da própria criança e no final a gente não sabe de resultado nenhum. Então é como se a gente fosse usado sem saber nem pra que estão fazendo aquilo.”
Quando os médicos começaram a notar um aumento de casos de microcefalia no Brasil em meados de 2015, os pesquisadores tiveram que se esforçar para elaborar estudos, obter financiamento e conduzir análises. Foi quando cientistas de várias instituições se reuniram no Grupo de Pesquisa da Epidemia de Microcefalia (MERG, na sigla em inglês). Eles começaram os esforços de pesquisa antes mesmo de o vínculo com o Zika ter sido estabelecido e tiveram um papel crucial na orientação das estratégias de saúde pública para combater a epidemia.
“Era uma pressão da mídia, pressão do Ministério da Saúde”, diz Demócrito de Barros Miranda-Filho, membro do MERG e professor da Universidade de Pernambuco. “A gente tinha prazo para submeter aos comitês de ética e tinha que elaborar todos os projetos a partir do zero”, ele diz, acrescentando que também havia pressão para dar respostas às famílias.
Uma das preocupações do grupo era compartilhar imediatamente os resultados individuais de testes e avaliações clínicas que pudessem impactar diretamente no tratamento da criança. Mas quando se trata dos achados gerais ao final do estudo, diz Miranda-Filho, os pesquisadores não os comunicaram adequadamente aos participantes.
“É muito complexo você decodificar e colocar em uma linguagem mais compressível questões biológicas”, diz Thália Velho Barreto de Araújo, epidemiologista da Universidade Federal de Pernambuco e membro do MERG. “A gente não encontrou um caminho ainda, e aí precisava ter recurso na pesquisa para ter assessoria para transformar essa linguagem técnica e cientifica numa linguagem mais palatável.” Ricardo Arraes de Alencar Ximenes, epidemiologista afiliado tanto à Universidade de Pernambuco quanto à Universidade Federal de Pernambuco, observa que um dos obstáculos para desenvolver estratégias de comunicação bem pensadas é a dificuldade em obter financiamento dedicado.
A médica Camila Ventura, uma das coordenadoras de um ambicioso projeto com o objetivo de avaliar o neurodesenvolvimento de cerca de 200 crianças com síndrome congênita do Zika ao longo de cinco anos, diz conhecer as demandas das famílias e concordar com elas. Mas existem outros obstáculos além do financiamento adequado, diz ela. Por exemplo, o projeto, que tem financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH), está sendo desenvolvido na Fundação Altino Ventura em parceria com a organização de pesquisa norte-americana RTI International. Como o projeto é feito em parceria com outras organizações, Ventura diz que não depende apenas de sua instituição fornecer esse feedback.
“Isso é uma crítica que faço internamente e cobro muito” de nossos parceiros de pesquisa, diz Ventura. “As mães veem que estamos coletando dados e querem saber: E meu filho: está melhorando?”
Van der Linden afirmou por e-mail que, quando convida uma família para participar de um estudo, ele tenta deixar claro que o objetivo é ajudar na compreensão da doença e que as descobertas podem não beneficiar os próprios participantes. “Explico que após o estudo terminado, não existirá um ‘resultado’. Sinceramente não ofereço nem prometo ligar para cada um para explicar os detalhes, etc. Sempre deixo claro que é para ciência” ele escreveu. “Creio que pode haver talvez um excesso de expectativa ou uma expectativa irreal, algo que nunca foi prometido.”
Soraya Fleischer, antropóloga da Universidade de Brasília que coordena um projeto de pesquisa sobre o impacto do Zika na vida das famílias, diz que também é importante considerar o que essas mães querem dizer quando pedem os resultados do estudo. “Para pesquisador, o resultado é um artigo publicado em uma revista estrangeira bem qualificada. Para ele, é o que vai entrar para o currículo”, ela diz. Mas para as famílias, diz Fleischer, às vezes o resultado é um simples exame de sangue que confirma que a condição da criança foi causada pelo Zika – um documento importante que dá acesso a certos benefícios sociais reservados a crianças com a síndrome, e que podem ser difíceis de obter através do sistema público de saúde.
Nem todos os pais tiveram uma experiência ruim com pesquisadores do zika. Jaqueline Silva de Oliveira, mãe de uma menina de 5 anos com síndrome congênita do Zika, diz que sempre que precisa desse tipo de laudo para reivindicar benefícios sociais, ela procura a cientista que inscreveu sua família em um estudo de genética. O irmão gêmeo da menina não foi afetado pelo Zika, o que chamou a atenção de um grupo do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo que queria tentar identificar potenciais genes protetores.
“Eu participei pra poder ajudar para salvar outras vidas, outras crianças, a não ter a microcefalia”, diz Oliveira. Ela diz que não consegue explicar com suas próprias palavras quais foram os resultados do estudo e que não recebeu um documento que os descreva. Mas, no geral, ela acha que ter participado do estudo foi uma experiência positiva. Ela continua tendo uma conexão com a pesquisadora, e ela a ajudou a encontrar uma neurologista, uma das melhores do estado, diz ela, que conseguiu controlar as crises de epilepsia de sua filha. “Eu ajudei ela nas pesquisas e depois eu precisei e ela me ajudou.”
Durante o surto inicial de Zika em 2015 e nos anos que se seguiram, participar nos estudos brasileiros de Zika podia ser uma experiência difícil. Luciana Lira, antropóloga da Universidade Federal de Pernambuco, lembra que acompanhou duas mães a um evento em 2018 no Recife, um dos epicentros do surto da síndrome congênita do Zika. O evento foi organizado por uma universidade local e uma associação para famílias de crianças com doenças raras. Enquanto as outras mães participavam de palestras e rodas de conversa, as mães de crianças com síndrome congênita do Zika eram encaminhadas a uma sala onde os pesquisadores organizavam uma força-tarefa para coletar sangue para um projeto de pesquisa.
Na ocasião, Lira conta que observou enquanto uma enfermeira abordava uma mãe para participar do estudo. A mãe estava “tão agitada que a enfermeira se aproximou e começou a explicar a ela e nitidamente ela não conseguia parar para ouvir aquilo e dar atenção de fato porque tinha outras coisas bem mais urgentes para lidar. Era a filha tendo uma crise de choro. Ela tinha que colocar o alimento para dar numa sonda, toda aquela situação”, diz Lira. “Aí ela concorda em participar, vai ali e assina e acabou. E isso se tornou muito corriqueiro, desde 2015 elas viviam aquele cotidiano.”
Support Undark MagazineUndark is a non-profit, editorially independent magazine covering the complicated and often fractious intersection of science and society. If you would like to help support our journalism, please consider making a tax-deductible donation. All proceeds go directly to Undark’s editorial fund. |
O pesquisador coordenando o projeto era Nilson Antonio de Assunção, professor de química da Universidade Federal de São Paulo que estudava as características bioquímicas do sangue de crianças com Zika. O estudo ainda não foi publicado, diz de Assunção, acrescentando que está ciente de que algumas famílias não entendem totalmente o propósito de sua pesquisa quando concordam em participar. “Elas também ficam nervosas, estão num evento, são pessoas simples, os filhos estão chorando e acabam não entendendo bem o que a gente está explicando.”
Assunção diz que não há muito o que fazer em termos de estratégias para se comunicar melhor com as famílias de crianças participando de estudos. “Eu tenho percebido mesmo essa desconfiança das famílias”, diz, “mas quem acaba perdendo são mais as famílias”. Ele diz que já tentou explicar e educar as famílias sobre seu trabalho. “Por mais que você faça, sempre vai ter essa desconfiança”, ele afirma.
Lira e seus colegas têm observado a relação entre cuidadores de crianças com Zika e cientistas da área biomédica em Recife. Silvana Matos, também antropóloga da Universidade Federal de Pernambuco, diz que inicialmente as mães aceitavam muito bem a atenção dos cientistas porque queriam entender o que havia acontecido com seus filhos. “A coisa que elas mais reclamaram logo em seguida é que elas não tinham a devolutiva. Não sabiam do exame, o exame nunca voltava para elas. Aquele pesquisador ou do brasil ou do exterior nunca mais entrava em contato, não diziam o que tinha acontecido”, diz.
As experiências das famílias com os estudos clínicos as tornaram mais cautelosas com pesquisadores em geral. Quando os antropólogos começaram a trabalhar com as famílias no final de 2016, eles tiveram que redesenhar seus estudos para lidar com o esgotamento das famílias em relação à pesquisa e ganhar sua confiança, diz Lira.
As famílias “tinham sido assoberbadas tanto por cientistas que estavam tentando colher material orgânico para fazer pesquisa sobre o vírus quanto por jornalistas e pesquisadores querendo entrevista-las”, diz Fleischner. “Tinha uma ânsia de saber o que estava acontecendo” entre cientistas jornalistas e pesquisadores “e elas eram a fonte”.
Lira passou vários meses seguindo as famílias antes de fazer qualquer entrevista. Fleischer, que não mora em Recife, decidiu voltar à cidade várias vezes ao longo dos anos para revisitar as famílias e mostrar o que havia sido produzido com os dados coletados anteriormente – por exemplo, um artigo ou uma reportagem de jornal. Percebendo que as mães estavam muito ocupadas para ler artigos longos, o grupo de Fleischer criou um blog para publicar histórias curtas sobre a vida com Zika que eles imprimiam e distribuiam aos participantes durante as visitas. O fato de os pesquisadores voltarem e relatarem o que faziam fez com que as famílias se sentissem respeitadas, segundo Fleischer, e foi fundamental para a construção de confiança.
No Brasil, o arcabouço ético e legal para pesquisas envolvendo seres humanos foi estabelecido em 1996 por meio de resolução do Conselho Nacional de Saúde. Para conduzir um estudo envolvendo seres humanos no Brasil, os pesquisadores devem submeter sua proposta a um comitê de ética em pesquisa, assim como nos Estados Unidos. Cada organização de pesquisa pode constituir seu próprio comitê, que responde à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
Antes de entrar em um estudo, os participantes devem assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, um documento que descreve o estudo, seus objetivos e os possíveis riscos e benefícios da participação. Segundo a comissão, o documento deve ser redigido em linguagem clara e acessível.
A necessidade de compartilhar as conclusões com os participantes, que está no cerne das reclamações das famílias, não está diretamente coberta pela resolução de 1996. Mas as normas éticas atuais, em vigor desde 2012, afirmam que os achados da pesquisa devem ser comunicados à comunidade se houver potencial para beneficiar a população, observa a bióloga Maria Mercedes Bendati, aposentada da secretaria municipal de saúde de Porto Alegre e membro da CONEP.
“Já está dito que é importante que tenha um retorno”, ela diz. O que falta, segundo ela, é implementar esse requerimento e “colocar essa necessidade muito claramente no processo da formação do pesquisador. Que o pesquisador se coloque no seu papel social, que implica em dar esse retorno aos participantes”.
Bendati participou da Consulta de Ética sobre Zika, reunião organizada pela Organização Pan-Americana da Saúde em abril de 2016, que deu origem a diretrizes éticas sobre as principais questões levantadas pelo surto de Zika.
Florencia Luna, presidente da Consulta de Ética sobre Zika, afirma que o objetivo da orientação era justamente evitar situações como as descritas pelas famílias. “Estávamos muito preocupados em fazer pesquisa naquele momento, no meio do surto. Então, é um pouco como agora, com a Covid ”, diz ela. “Mesmo se você quiser fazer [pesquisa] rápido, e é assim que deve ser feito, isso não significa que você possa evitar as normas éticas.”
Luna, que também é diretora do programa de bioética da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais da Argentina, acredita que devolver os resultados aos participantes é uma obrigação ética. “Pessoalmente, acho que é muito importante voltar e contar as boas ou más notícias”, diz ela, especialmente quando se trata do Zika, que envolve mães e bebês com problemas de saúde. “Pelo menos mandar uma carta ou ligar para elas”, acrescenta. “Talvez não as fazer ir ao posto de saúde porque seria muito trabalhoso, mas existem outras formas de se comunicar hoje em dia, com celular e internet.”
De acordo com as Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisa Relacionada à Saúde Envolvendo Humanos, um documento de 2016 preparado pelo Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, os pesquisadores “devem envolver os participantes e as comunidades em um processo participativo significativo”, que inclui a disseminação dos resultados do estudo.
Apesar dessas diretrizes, não comunicar os resultados aos participantes é visto por alguns pesquisadores como algo normal. Carl Elliott, especialista em bioética e professor de filosofia da Universidade de Minnesota, diz que a situação narrada por Rochelle dos Santos, em que o pesquisador hesitou em enviar-lhe o estudo para o qual sua filha havia colaborado, não o surpreendeu.
“Se eu fosse o sujeito de pesquisa ou a mãe do sujeito de pesquisa, isso me ofenderia e acho que com razão”, diz ele. “Dito isso, acho que a grande maioria dos sujeitos de pesquisa não faz esse tipo de seguimento. Eles não perguntam ou nem mesmo estão particularmente interessados nos artigos.” Elliot diz que não acha que o investigador deu a resposta certa, mas imagina que ele provavelmente ficou surpreso com o pedido.
De qualquer forma, Elliott diz acreditar que, se um participante ativamente pedir, o pesquisador deve fornecer os resultados: “É uma vergonha que seja necessário tanto esforço, e muitas vezes dinheiro, para o público ter acesso aos resultados dos estudos científicos publicados na literatura médica.”
Em setembro de 2018, o descontentamento dos cuidadores brasileiros culminou no Congresso anual da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical em Recife. Naquele ano, o programa incluiu várias sessões sobre a síndrome congênita do Zika. Segundo um artigo de Lira, nenhuma associação de famílias foi convidada.
Durante uma das sessões no palco principal, Germana Soares, mãe de um menino com síndrome congênita do Zika e presidente de uma das maiores associações de famílias, pediu para falar. Ela leu em voz alta uma carta para os organizadores do evento.
“Achamos de uma falta de empatia e sensibilidade com a nossa realidade, uma tamanha falta de respeito em nos subestimar e achar que nós mães, familiares, cuidadoras, não teríamos a compreensão de um evento técnico sobre o nosso maior interesse”, dizia a carta. Será que nós mães somos tão ignorantes, sem o mínimo de instrução que não saberíamos entender um artigo científico ou uma palestra? Ou os profissionais que deveriam ter uma linguagem de fácil entendimento? Ou estamos totalmente equivocadas em querer exigir a discussão sobre ética em pesquisa dentro da biomedicina? Será que somos apenas números?”
Os organizadores foram aparentemente pegos de surpresa, pois o discurso de Soares não estava no programa. Um dos palestrantes da sessão ligou para Sinval Pinto Brandão Filho, presidente da Sociedade, para perguntar o que fazer a respeito. Ele o aconselhou a deixar Soares falar. “Nossa entidade acolhe com grande satisfação esse debate porque nós estudamos o controle das doenças tropicais”, ele disse, acrescentando que todo ano a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical convida pacientes com doenças negligenciadas para um fórum público durante o congresso para discutir os problemas que enfrentam. “Vejo isso como coisa pontual que foi imediatamente reconhecido que deveria ter mais sensivelmente incorporado na pauta das homenagens.”
Hoje, apenas casos esporádicos de síndrome congênita de Zika ainda ocorrem, o que torna difícil conseguir financiamento para pesquisas, dizem os cientistas. O foco da pesquisa mudou para Covid-19, mas a emergência de saúde pelo Zika pode ter deixado um legado quando se trata de ética em pesquisa.
“A minha reflexão pessoal sobre a experiência do Zika nos comitês de ética é que talvez faltou um pouco fazer esse diálogo com o pesquisador sobre a forma com que o resultado seria retornado às pessoas”, diz Bendati. “Quando a gente fala da Covid-19, a CONEP colocou bastante clara a necessidade de que fosse explicado e dado proposta de retorno aos participantes.” Aprender com os erros do Zika pode ter contribuído para essa evolução, acrescenta Bendati.
Luna diz que está ciente de que às vezes a ética é vista como um obstáculo para a ciência. Rastrear os participantes pode ser difícil, e os pesquisadores que podem ter seguido para outro projeto muitas vezes não têm tempo e energia para realizá-lo. “Mas é parte do que temos que fazer para construir confiança e continuar trabalhando”, diz ela. “Do contrário, essas mulheres não vão colaborar em nenhuma outra pesquisa em suas vidas porque ficaram decepcionadas”.
* Mariana Lenharo é uma jornalista de ciência e saúde cujas reportagens já foram publicadas pela Scientific American, Mother Jones, Elemental, BBC News Brasil, entre outras publicações. Ela está atualmente baseada em São Paulo, Brasil.
Esta reportagem foi anteriormente publicada no site Undark. Clique aqui para ter acesso ao texto original.