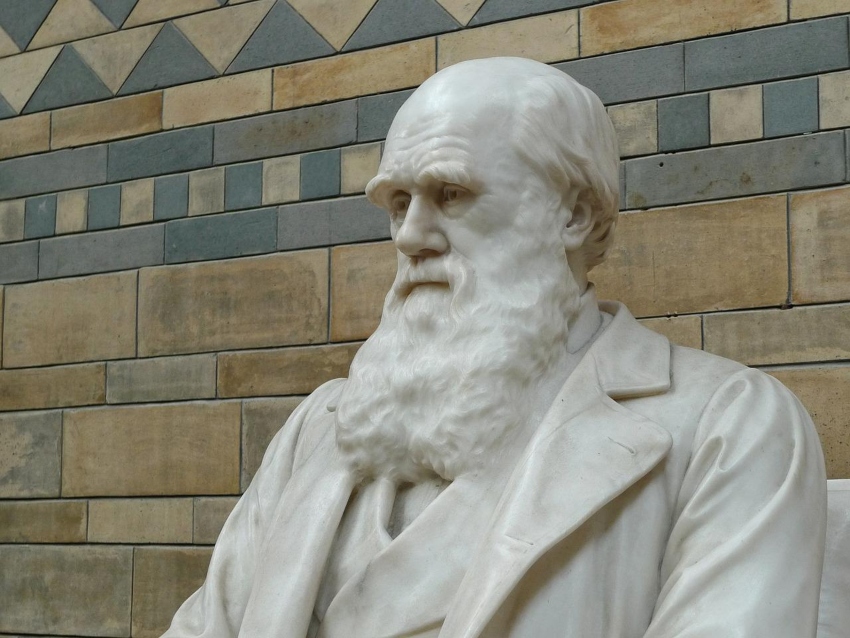“Cientistas precisam se envolver no debate público”, diz Luiza Caires, editora de ciências do Jornal da USP

A jornalista de ciência Luiza Caires. Foto: Cecília Bastos / USP Imagens
Para a jornalista Luiza Caires, editora de ciências do Jornal da USP, os cientistas também têm que continuar a mostrar a cara para não serem esquecidos depois da pandemia
Por AD Luna
@adluna1
O Jornal da USP é, hoje, um dos mais importantes meios de divulgação científica do País. No comando da editoria de ciências do canal mantido pela Universidade de São Paulo está a jornalista Luiza Caires. Além dessa função, ela também costuma se utilizar das suas contas no Twitter e no Instagram para comunicar estudos, pesquisas e notícias.
Luiza Caires participou da centésima edição do InterD – música e conhecimento, veiculado na rádio Universitária FM do Recife, todas as quartas, às 20h, e aqui no site do projeto.
Na entrevista, a comunicadora falou a respeito da deficiência na educação da ciência nas faculdades de jornalismo e no ensino básico, sobre quando profissionais da imprensa não devem cair na tentação de “ouvir os dois lados” em questões de falsa controvérsia. Caires sugeriu ainda as músicas “Avôhai”, de Zé Ramalho; e “Fadas”, composição de Luiz Melodia, na voz de Elza Soares.
Ouça o bloco do programa com a entrevista e uma versão editada da transcrição da conversa, abaixo.
Primeiramente, fale um pouco sobre como você embarcou no universo do jornalismo científico.
Sempre gostei de cobrir temas relacionados à ciência. Mas eu comecei no jornalismo científico, de fato, na própria USP. Primeiro fazendo reportagem para a antiga Agência USP de Notícias e, depois, entrei [via] concurso para o portal da USP. Em 2016, ele ficou somente on-line, contemplando bastante a parte de divulgação das pesquisas da Universidade.
O site do Jornal da USP tem se mostrado um excelente veículo de divulgação científica. Como funciona a rotina e quantas pessoas trabalham com você?
No Jornal da USP, a gente tem a editoria de ciências, que eu coordeno, mais atualidades, universidade e cultura. Nessas editorias é distribuído tanto matérias escritas, fotos, infográficos; quanto o conteúdo em áudio das matérias de rádio e podcasts. Há também os vídeos do canal USP no YouTube.
Na editoria de ciências, há seis jornalistas e três estagiários de jornalismo. No Jornal, também temos profissionais de arte, de audiovisual e de TI (tecnologia da informação) que acabam atuando juntos de todas as editorias.
Por conta da pandemia, a ciência ganhou uma grande visibilidade na mídia. De forma geral, você acha que a imprensa – digamos, mais mainstream – tem lidado bem com a cobertura? O que que poderíamos elogiar e o que precisa melhorar?
A imprensa, no geral, tem feito um bom trabalho cobrindo a pandemia. Mas claro que tem falhas também. Há muitos jornalistas que nunca cobriram a área de ciências e saúde e que penaram um pouco quando foram jogados para fazer esse tipo de cobertura bem no meio de uma situação de emergência, também sem muito suporte.
Porque as redações, em geral, encolheram bastante como um todo. Principalmente a parte de profissionais mais especializados em ciências – os quais temos em bem pouco número.
A imprensa errou, muitas vezes, na pressa em noticiar pesquisa sobre um tratamento que ainda está em fase muito inicial de estudo, prometendo falsas esperanças. Esse é um erro constante, não só por conta da covid e nem só durante a pandemia.
A gente costuma ver tratamentos promissores sendo anunciados quando ainda, por exemplo, estão na fase de estudos in vitro ainda – e sabemos que pouquíssimos medicamentos ou substâncias que passam pela parte do estudo in vitro, lá no final, lá na ponta, vai virar um medicamento. O funil é muito seletivo.
Então, quando a gente noticia, como se fosse muito promissor, algo que ainda está na fase de estudos in vitro – ou mesmo em animais -, acho que de alguma maneira é um pouco enganoso.
E tem essa guerra de eficácia das vacinas que, na maioria das vezes, foi promovida pelos próprios fabricantes, laboratórios, com interesses políticos e financeiros envolvidos e a imprensa acabou caindo. Na verdade, não tem muito sentido científico ficar comparando demais as vacinas. Nada é tão exato e tem vários fatores que impactam no sucesso de uma campanha de vacinação.
Mas não dá para cobrar só da imprensa por isso porque, como falei, na verdade foi um movimento mundial dos laboratórios para promover esses press releases, anunciando estudos de eficácia, sem terem publicado estudos ainda.
Também acho que algumas coisas nessa pandemia foram deixadas pouco claras para população. Um exemplo é que muita gente ainda não entendeu qual é o problema de liberar controle de vacina para empresas privadas. Não entendeu que cada vacina comprada dessas poderia ir para o SUS e não vai.
As doses das vacinas são escassas, elas não estão sobrando. Muita gente acaba não entendendo isso. [Quanto] às vacinas, as doses que existem, não foi por falta de dinheiro que o governo não quis comprar. Teve sim matéria sobre isso, mas se muita gente não entendeu o problema, pode querer dizer que nós falhamos em algum ponto ao comunicar.
A jornalista Luiza Caires pediu pra gente tocar “Avôhai”, de Zé Ramalho
Já ouvi alguns divulgadores científicos se perguntando, se questionando, como é que vai ficar, como é que vai ser esse espaço que a gente tem visto aí que tem sido dado à ciência na imprensa, quando a pandemia passar. Como fazer para que o interesse por ela pela ciência continue num desejável estado de pós-pandemia?
Acho que quando a pandemia passar, claro que vai dar uma baixada nesse interesse mais imediato por saúde e ciências. Mas são temas que vão continuar presentes no dia a dia das pessoas em outros assuntos e a gente tem que explorar isso.
Muitas pessoas descobriram algumas vozes novas – que elas aprenderam a ouvir e confiar – de cientistas que fazem divulgação e estão sempre dando entrevistas. Quando surgir qualquer notícia relacionada à ciência, certamente elas serão mais ouvidas.
Acho que não só os comunicadores de ciências, mas os cientistas de uma forma geral precisam ser mais considerados para qualquer debate importante.
Porque a ciência pode dar mais base para as decisões que as pessoas tomam, a partir de fatos que já foram estudados; para dizer o que funciona e o que não funciona em assuntos diversos.
Se você pensar bem, desde o mais óbvio, como os efeitos das mudanças climáticas na cidade, até se é certo fazer publicidade para criança pequena ou até a melhor abordagem para lidar com crime e com drogas. Aí também estão sendo incluídas as ciências humanas.
A grande imprensa precisa aprender a explorar melhor essas vozes quando forem fazer reportagens sobre esses e outros temas. E os cientistas precisam continuar a mostrar a cara e se envolver no debate público, para também não serem esquecidos depois da pandemia.
Numa entrevista para o InterD, o presidente da RedeComCiência, Moura Leite Netto, expôs que o “Ensino de jornalismo científico no Brasil é insatisfatório”. Os cursos de jornalismo não se aprofundam na formação e o método científico, o pensamento científico não é ensinado aos estudantes de graduação. O que você pensa sobre essa situação?
Acho que há pouco investimento sim, no ensino das bases do jornalismo de ciências. Não conheço a realidade atual dos cursos, mas acho que não deve ter mudado muita coisa, desde o tempo em que eu era estudante. Na verdade, é um problema mais profundo. A gente não tem base sobre o que é o pensamento e o método científico desde a escola, que é onde tudo devia começar.
A maioria dos currículos ensina a ciência como um amontoado de fatos, sem abordar as visões de mundo que estão por trás do que se ensina, sem mostrar como a ciência é feita na atualidade também.
A maioria dos alunos, mesmo os de boas escolas, saem com uma ideia bem limitada e distorcida do que o cientista faz, por exemplo.
Eu me lembro da minha época, depois de concluir o atual ensino médio, de que eu não tinha muita noção de como era o trabalho de um cientista. Só vim ter noção disso quando entrei na universidade e comecei a fazer – mesmo que ainda nos laboratórios, no estágio – algumas matérias sobre ciência.
A gente tem uma ideia bem estereotipada, justamente porque isso não é passado desde o começo na escola. Para a pessoa se tornar um jornalista científico, ela acaba tendo que primeiro preencher essas lacunas todas e depois ainda aprender sobre jornalismo científico. Com certeza isso atrapalha bastante na formação geral.
“Fadas”, composição de Luiz Melodia, foi um pedido da jornalista Luiza Caires
Há algo que muita gente toma como uma das bases do jornalismo, que é o “ouvir os dois lados”. Mas quando é, digamos, cientificamente incorreto ouvir os dois lados?
Acho que é errado querer ouvir os supostos dois lados quando já existe um consenso muito grande, com um acumulado de evidências fortes sobre um assunto, fato. Ou mesmo dar espaço para uma alegação polêmica só porque ela chama atenção.
Por exemplo, se alguém quiser dizer que fumar não aumenta o risco de câncer de pulmão. Primeiro teria que haver muitos estudos sugerindo isso. Daí esses estudos precisariam passar pelo crivo da comunidade científica. Seria necessário haver todas essas etapas para [a alegação] se tornar realmente um debate e ir para imprensa.
É aquela história de quanto mais a alegação for contra as atuais evidências, mais provas vão ser exigidas.
Então, o jornalismo não tem que dar espaço para alguma coisa que ainda não se constitui um debate. É só uma pessoa querendo chamar atenção com uma ideia polêmica.
Já vi até revista dando espaço para pesquisador da área de economia que jurava que faltavam exatos X meses para a pandemia acabar. É uma coisa que não tem cabimento.